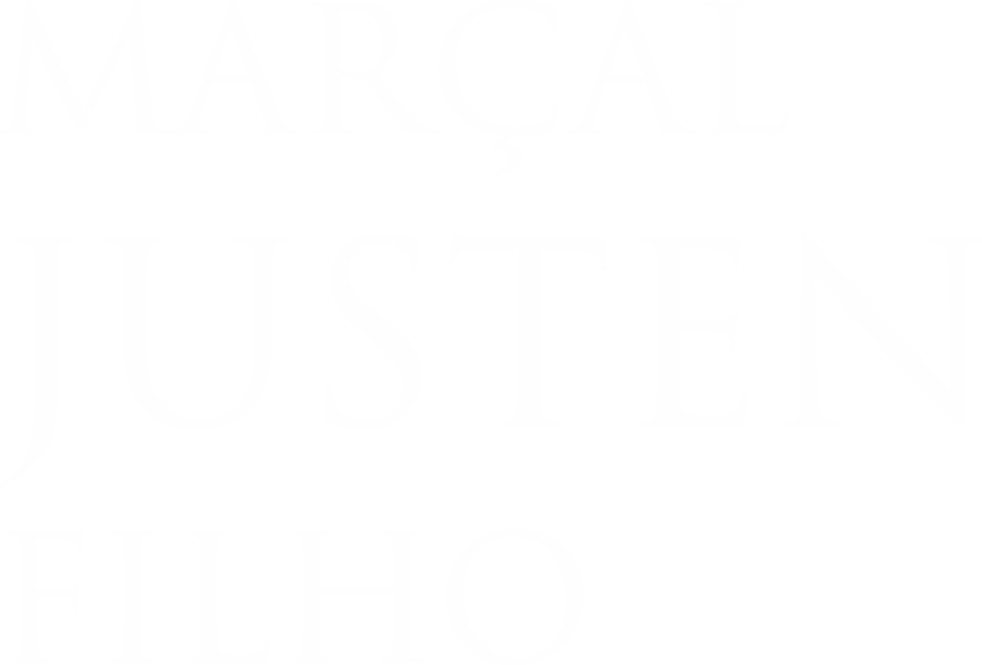Le Tiers et la norme
Rapporteur: Marçal Justen Filho
1.1 Quel est le rôle, respectivement quels sont les droits voir les obligations des tiers dans l’élaboration des normes étatiques que sont, par exemple:
De manière générale, la loi brésilienne a accru, depuis la Constitution de 1988, la participation des tiers dans l’élaboration des normes étatiques. L’art. 14 de la Constitution prévoit que la souveraineté du peuple ne s’exprime pas que dans le suffrage universel, par le vote direct et secret, mais aussi par le plébiscite, le référendum et l’initiative populaire (ci-après examinée). Les modalités d’application de cette disposition ont été precisées par la loi fédérale n. 9709/1998. Conformément à l’art. 2 de ce texte, « le plébiscite et le référendum sont les questions posées au peuple pour délibérer sur une question fondamentale d’origine constitutionnelle, législative ou administrative. » Dans les deux cas, la question est effectuée en vue de l’adoption ou du rejet des actes normatifs ayant un contenu spécifique.
La participation du peuple est beaucoup plus évidente et large dans le cadre administratif que dans le législatif. Les autorités politiques et administratives (et même judiciaires) peuvent réaliser des consultations et des audiences publiques à l’égard de n’importe quel sujet pertinent et controversé. Dans certains cas, cette audience est obligatoire. Néanmoins, dans les cadres législatif et judiciaire, il s’agit beaucoup plus d’un choix discrétionnaire de l’autorité compétente qui mène le processus d’élaboration de la norme.
Un élément important consiste dans le fait d’encourager la participation des organisations non-gouvernementales dans la formulation et la mise-en- œuvre des politiques publiques.
En général, la participation du peuple n’entraîne aucune obligation pour les individus, sauf dans le cadre des relations juridiques d’origine contractuelle. Il est fréquent que le fait de ne pas accomplir certaines exigences entraîne l’exclusion de l’individu de la participation à l’activité administrative. Cette affirmation suppose, bien entendu, l’absence d’obligations réciproques et de nature commutative.
1.1.1 La Constitution:
Il n’y a aucun dispositif constitutionnel permettant l’initiative du peuple pour proposer des amendements à la Constitution. Néanmoins, les modifications du texte constitutionnel peuvent être soumises à l’examen des citoyens par la voie des plébiscites ou référendums. Mais cette question n’est pas formellement consacrée par la Constitution. La loi n. 9709/1998 prévoit, à l’art. 3, que la tenue d’un plébiscite ou d’un référendum, portant sur les questions nationales pertinentes (comme dans le cas d’un amendement constitutionnel), dépendra de l’autorisation du Congrès National, faisant suite à la proposition d’au moins un tiers des membres qui composent l’une des ses chambres [l’Assemblée ou le Sénat].
1.1.2 La loi
L’iniciative du peuple est admise pour les propositions de lois. L’art. 61, § 2, de la Constitution prévoit que « L’initiative populaire peut être exercée par la présentation d’un projet de loi à l’Assemblée Nationale, signée par au moins un pour cent de l’électorat national, répartis dans au moins cinq Etats, avec pas moins de trois dixièmes d’un pour cent des électeurs de chacun d’eux ». Cette définition est reproduite dans l’art. 13 de la loi fédérale n. 9709/1998. Afin d’avoir une idée plus précise, il convient de préciser que l’électorat national comprend environ 143 millions de personnes.
Par ailleurs, la Constitution prévoit à l’art. 58, § 2, inc. II, que le processus législatif peut comprendre la réalisation d’audiences publiques, permettant la manifestation des différents secteurs d’activités de la société en ce qui concerne les matières examinées.
1.1.3 L’ordonnance ou le décret
La participation de tiers dans la détermination de la politique publique et dans la diffusion des règlements administratifs a été élargie de manière continue. La Constitution prévoit que l’action administrative de l’Etat devrait être faite avec la participation des citoyens. L’art. 37, § 3, prévoit que « La loi réglemente les formes de participation des usagers dans l’administration publique directe et indirecte… ». La règle se réfère spécifiquement aux services publics mais plusieurs autres dispositifs constitutionnels adoptent une solution similaire. Par exemple, l’art. 204 prévoit que « les initiatives du gouvernement dans le domaine de l’aide sociale seront prises avec le budget de la sécurité sociale prévue à l’art. 195, et d’autres sources, et organisées sur la base des directives suivantes: (…) II – La participation de la population, à travers des organisations représentatives, dans la formulation et le contrôle des actions politiques à tous les niveaux ».
Un grand nombre de textes prévoit des consultations et audiences publiques sur des questions spécifiques. Cette solution a été adoptée par la « Loi sur la procédure administrative fédérale » (loi n. 9784/1999). Son art. 32 dispose qu’ « Avant de prendre une décision, selon le jugement d’opportunité de l’autorité et la pertinence de la question, une audience publique peut être tenue afin de débattre sur le processus à adopter. » D’autre part, les lois régissant la réglementation sectorielle (énergie, télécommunications, transports publics, etc.) prévoient la possibilité de réaliser des audiences publiques et des consultations. Dans de nombreux cas, l’audience publique est même obligatoire. Ainsi, elle est prévue, par exemple, dans la loi sur les appels d’offres (loi n. 8666/1993), à l’art. 39, pour les cas des contrats à prix plus elevés.
1.2 Le tiers peut-il être chargé de produire des normes, d’édicter des réglementations?
En règle générale, non. Au Brésil, une approche très rigoureuse sur le monopole étatique du pouvoir d’édicter les règles juridiques abstraites et générales prévaut. On a admis, cependant, la possibilité pour les organisations professionnelles ou sectorielles, en principe ne provenant pas du secteur public, de créer des règles juridiques contraignantes dans les activités pertinentes à leur objet. Il s’agit du phénomène de «l’autorégulation».
1.2.1 Dans quelles circonstances (citer quelques exemples)?
L’attribution de compétence pour l’autoréglementation se produit dans les cas où les activités à réglementer sont très spécialisées. L’action formelle de l’Etat est donc insuffisante pour produire les règles normatives – cela s’explique non seulement en raison des délais et de la bureaucratie qui imprègnent l’activité de l’Etat, mais aussi de l’absence de connaissances techniques essentielles et de la rapidité exigée par ces sujets et les solutions à apporter. En règle générale, une autorisation législative est nécessaire pour valider les actions de ces entités non étatiques. De nombreux exemples peuvent être cités. Le cas le plus remarquable est celui de l’Association du Barreau du Brésil (loi n. 8906/1994) – il s’agit d’une entité à statut particulier. Mais il existe aussi des lois qui reconnaissent l’autorité réglementaire à d’autres organismes professionnels. Ainsi, la loi fédérale n. 4680/1965 dispose, dans l’art. 17, que « l’activité de publicité nationale sera régie par les principes et les normes du Code de déontologie des professionnels de publicité établis dans la Première Conférence Brésilienne de Publicité, tenue en Octobre 1957 à la ville de Rio de Janeiro ». La Chambre du Commerce d’Energie Electrique est un autre cas spécifique. La CCEE a été créée par l’art. 4 de la loi fédérale n. 10848/2004 et il s’agit d’une association civile qui a des pouvoirs législatifs pour réglementer l’activité de négociation d’électricité. Un autre cas très particulier concerne l’entité responsable de la gestion des processus de redistribution et de numérisation des chaînes de télévision et RTV – « EAD ». Il s’agit là encore d’une association civile, dont la création a été déterminée par l’invitation à soumissionner au programme de téléphonie 4G (700 MHz). Cette entité sera constituée par les opérateurs privés du sevice de téléphonie mobile dans la bande de 700 MHz et aura certains pouvoirs législatifs d’autoréglementation.
1.2.2 Où se situe la norme édictée par un tiers dans la hiérarchie des normes? En principe, la norme produite par un tiers est toujours subordonnée à n’importe quel acte de l’Etat. Elle ne peut pas contredire les dispositions légales ou réglementaires. Néanmoins, il est essentiel de noter que ces normes tendent strictement à réglementer des secteurs très spécifiques et particuliers. Habituellement, ces matières ne sont même pas soumises aux lois ni aux actes administratifs. Dans ce contexte très particulier, les normes produites par les particuliers sont pleinement contraignantes et leur efficacité est similaire à celle des autres règles d’origine étatique.
1.2.3 Qu’en est-il de la reconnaissance par l’ordre juridique d’une norme élaborée spontanément par un tiers? L’hypothèse n’est pas reconnue par l’ordre juridique brésilien. On estime que la production normative générale et abstraite relève du monopole de l’Etat – avec certaines exceptions comme dans le cas où l’autorité législative permet aux organismes privés l’autoréglementation. L’élaboration spontanée, par une personne privée, d’une norme « juridique » sans autorisation législative est considérée comme une violation à l’ordre juridique. Ses prévisions ne seront pas contraignantes et il y a même le risque de que cet acte soit qualifié d’ illicite.
1.3 Quels sont les prérogatives du tiers dans le mécanisme de contrôle de conformité des normes aux normes de rang supérieur?
Le système brésilien de contrôle de validité des actes normatifs a une large portée et comporte des solutions très différentes. Le contrôle de constitutionnalité des lois peut être realisé de manière concrète ou abstraite. Cela signifie que la Cour Fédérale Suprême a la compétence de contrôler la constitutionnalité de tout acte législatif au niveau fédéral. Toutefois, s’il existe quelques limites sur la qualité à agir pour initier cette action de contrôle, de nombreuses organisations de la société civile sont autorisées à le faire en application de l’institution « amicus curiae » qui s’est développée dans le cadre de la Cour suprême. Il s’agit donc d’un tiers (individu ou entité privée) qui n’est pas partie à la procédure, mais qui peut y participer en vue de sa représentativité unique.
S’agissant du contrôle concret, il est fait dans l’examen d’un cas qui lui est soumis, par un juge à tout niveau de juridiction – y compris d’office, sans qu’il y ait une demande spécifique des parties. Tous les individus, dont les droits ou les intérêts sont affectés par un acte normatif de l’Etat, peuvent demander aux tribunaux de prononcer une décision sur la constitutionnalité ou la légalité de celui-ci. L’ordre juridique brésilien comprend également des instruments de contrôle de validité des actes normatifs qui interfèrent dans les intérêts collectifs ou généraux. Ainsi, les syndicats et de nombreuses associations civiles peuvent demander la nullité des actes normatifs affectant leurs intérêts. Sous certaines conditions, la décision aura force de chose jugée, y compris à l’égard des individus qui n’étaient pas parties au procès.
II. L’intérêt du tiers
2.1 Le tiers doit-il justifier d’un intérêt (particulier) pour participer à une procédure administrative, lorsque celle-ci est, par exemple: En règle générale, le problème sera résolu par l’invocation d’un intérêt individuel ou en vertu des intérêts collectifs ou généraux. De nombreuses institutions ont pour objet la défense des intérêts collectifs ou généraux. Dans de tels cas, leur participation effective dépend de la pertinence des propos institutionnels et de la controverse. Néanmoins, quand il s’agit des intérêts d’un individu, la règle ne suit pas la « nécessaire pertinence » – mais la question présente des spécificités concernant les litiges (ci-dessous).
2.1.1 Contentieuse Il faut remarquer que le Brésil ne consacre pas le contentieux administratif comme c’est le cas en France. Par conséquent, le tiers n’a pas la legitimité pour prendre part à une procédure administrative. En revanche, devant le juge judiciaire, dans une affaire concernant des litiges ayant pour origine la procédure administrative, un particulier peut intervenir pour défendre certains intérêts. Dans un tel cas, l’individu doit prouver que la décision est susceptible d’affecter ses intérêts. De plus, il faut que ces intérêts soient justifiés par une circonstance exceptionnelle. Il convient de noter en outre que la loi brésilienne contient un certain nombre de solutions procédurales pour la défense des intérêts collectifs et généraux. Dans ces cas, la faculté reconnue à un individu d’intervenir dans le processus est beaucoup plus évidente. Cependant, cette intervention est réservée aux associations civiles dont l’objet est lié à la question litigieuse.
2.1.2 Non-contentieuse
Le tiers peut participer à une procédure administrative non-contentieuse dans la mesure où la décision est susceptible d’affecter les intérêts généraux de la société civile. Ainsi, par exemple, n’importe qui peut participer aux audiences et aux consultations publiques. D’autre part, la Constitution fédérale consacre la garantie individuelle du droit de pétition (art. 5, inc. XXXIV, al. ‘a’). Cela signifie que n’importe qui peut présenter à une autorité administrative ses revendications, demandant une action concrète. Ce droit peut toujours être exercé, même dans le cadre des procédures administratives non-contentieuses.
2.1.3 Le cas échéant, contractuelle
Les observations faites ci-dessus concernant la procédure administrative noncontentieuse sont également applicables à l’intervention des personnes privées dans le cadre des procédures administratives relatives aux contrats.
2.2 Le tiers doit–il justifier d’un intérêt (particulier) pour contester:
2.2.1Un acte unilatéral? Un acte contractuel?
En ce qui concerne l’intervention des personnes privées, le droit brésilien, ne fait aucune distinction selon la nature (contractuelle ou unilatérale) de l’acte administratif. Dans ce domaine on peut appliquer les observations faites cidessus quant au respect de l’objet de l’intervention des tiers dans la procédure administrative non-contentieuse.
2.3 De quel intérêt le tiers doit-il justifier pour avoir droit à l’information?
La Constitution fédérale garantit le droit d’accès à l’information. Ainsi, il est prévu à l’art. 5, inc. XXXIII, que « toute personne a le droit de recevoir des organismes publics des informations d’intérêt particulier ou d’intérêt collectif ou général, qui seront fournies dans le délai prévue par la loi sous peine de responsabilité, sauf ceux dont le secret est essentiel à la sécurité de la société et de l’Etat ». La loi fédérale n. 12527/2011 régit la question. Elle reconnait l’existence d’informations sensibles, qui ne peuvent pas être divulguées. En dehors de ces cas, la loi distingue les hypothèses de renseignements concernant les informations privées et celles relatives à « l’intérêt public ». Cette catégorie comprend les informations qui touchent l’administration des biens publics, l’utilisation des ressources publiques, les contrats administratifs ainsi que les programmes, projets et actions des entités publiques.
2.4 D’une manière plus générale, qu’est-ce qui distingue l’intérêt du tiers de l’intérêt général, voire de l’action populaire?
L’intérêt public implique la collectivité et englobe les cas où il existe une pluralité de sujets chacun titulaire de ses propres intérêts mais qui sont placés dans une situation équivalente. Il comprend également les cas dans lesquels les intérêts sont partagés, de manière similaire, par tous les membre de la société. Dans ces hypothèses, l’intérêt de l’individu peut relever de l’une de ces situations. Mais, on peut envisager une situation oú l’individu détient un intérêt spécifique et différencié, qui peut être touché par l’activité administrative. Par conséquent, il y a des cas où le tiers intervient, en tant que détenteur d’un intérêt collectif ou général, et il y a ceux dans lesquels il a un troisième type d’intérêt distinct.
III. L’exécution de tâches publiques et le tiers
3.1 Qu’en est-il de l’exécution de tâches publiques par un tiers. A quelles conditions et avec quel contrôle cette exécution par un tiers peut-elle avoir lieu, en distinguant par exemple:
3.1.1 La subvention, la concession, la délégation et l’engagement contractuel
Actuellement, dans le droit brésilien, on constate qu’il existe un accroissement graduel des hypothèses dans lesquelles des domaines en principe réservés aux personnes publiques sont dévolus aux personnes privées. Cela inclut non seulement les relations entre l’Etat et le « troisième secteur », mais aussi entre l´Etat et le secteur privé de manière plus générale. Cette situation a été profondément renforcée par l’édition de la loi fédérale n. 11079/2004, qui porte sur les partenariats public-privé.
La loi établit l’obligation de traitement égalitaire des personnes privées dans les procédures de sélection menées par l’Etat, que ce soit dans les contrats du troisième secteur d’activité que dans les contrats administratifs. La procédure de sélection pour les contrats avec le troisième secteur est obligatoire. Il s’agit d’une nouveauté consacrée par la loi fédérale n. 13019/2014. L’appel d’offres obligatoire a déjà été prévu dans la Constitution fédérale pour les contrats du marché public et pour les concessions de services publics.
Il existe un grand nombre d’instruments tendant à contrôler l’exécution des contrats par les personnes privéess, en particulier dans les contrats administratifs. Il y a même un contrôle spécifique pour les agences de régulation sectorielles, ce qui n’exclut pas le contrôle de la Cour des comptes.
La Constitution fédérale dans son art. 70, paragraphe unique, prévoit que ceux qui reçoivent des fonds publiques sont tenus d’informer la Cour des comptes. Quoi qu’il en soit, il n’y a aucun obstacle à l’examen du contenu des contrats et de leur exécution par le juge judiciaire. En outre, il n’y a pas de différences significatives entre les cas de subvention, de récompense, de délégation et d’achat conjoint. Les solutions sont similaires, même s’il existe quelques différences spécifiques (hautement spécialisés).
Enfin, nous pouvons remarquer un phénomène d’ « activité administrative non-étatique », dans lequel les intérêts collectifs sont satisfaits par l’activité désintéressée des autres. En principe, ces activités sont soumises au droit privé. Cependant, un certain nombre de règles de droit public peuvent être applicables, en particulier dans les cas où les activités déterminées sont maintenues ou favorisées par des fonds publics.
3.1.2 Le droit commercial (sociétés d’économies mixtes par exemple)
La création d’une entreprise d’Etat, selon les règles du droit commercial, dépend d’une autorisation de la loi – conformément à ce qui est prévu à l’art. 37, inc. XIX, de la Constitution fédérale. L’entreprise publique est caractérisée par le fait que l’Etat détient la majorité du capital. Elles peuvent être utilisées à la fois pour la prestation de services publics (qui ont, au Brésil, une portée beaucoup plus réduite que dans le droit français) et pour l’exploitation des activités économiques. La participation minoritaire de l’Etat dans une entreprise privée ne signifie pas que l’entreprise est une entreprise publique: l’Etat sera alors considéré comme une personne privée.
Au Brésil, l’Etat participe de manière importante dans le domaine économiqueà la fois dans le secteur des services publics et dans les activités économiques généralement privées. Ces deux hypothèses sont différenciées par la Constitution fédérale, qui consacre des régimes juridiques différents. L’Etat peut utiliser les entreprises d’Etat pour fournir des services publics et exploiter des activités économiques. Ces entreprises publiques sont donc régies par le droit commercial, mais elles sont également soumises au droit administratif. En outre, les entreprises d’Etat sont soumises à des contrôles similaires à ceux prévus pour les entités purement administratives. Le personnel est sélectionné par des concours administratifs et les contrats doivent être précédés par un appel d’offres.
3.2 Existe-t-il des domaines où l’exécution de tâches publiques par un tiers est exclue et pour quels motifs – juridiques – politiques?
Oui. Selon la loi brésilienne, certains pouvoirs de l’Etat ne peuvent pas être délégués à une personne privée. Cette question est liée à la conception de la souveraineté du peuple. On considère que toutes les compétences impliquant des pouvoirs relatifs à la souveraineté du peuple sont réservées à l’Etat. Tel est le cas des compétences politiques et législatives. C’est également le cas de l’exercice légitime de la force, en particulier la question du pouvoir de police.
Seul l’Etat est investi de tels pouvoirs, qui ne peuvent pas être transférés à une personne privée – car cela impliquerait, sans doute, une violation du principe d’égalité.
Cependant, la délégation de l’exécution des missions de service public accessoires, complémentaires à l’exercice de fonctions publiques et au pouvoir de police est de plus en plus acceptée. Ces missions, même si elles sont attribuées au secteur privé, doivent être exercées sous la stricte supérvision de l’Etat.
3.3 De manière plus spécifiques qu’en est-il de l’administration de prestations par les tiers, en particulier le régime juridique applicable au tiers prestataire ainsi qu’aux établissements de droit public?
L’ «établissement de droit public» se manifeste au Brésil de diverses manières. Traditionnellement, il y en avait deux: la collectivité territoriale et la fondation publique [similaire aux « groupements d’intérêt public » du droit français]. Plus récemment, on a crée le consortium doté de la personnalité morale publique. Dans ces trois cas, il s’agit de personnes de droit public, créés ou autorisées par la loi. La collectivité territoriale est investie de missions typiquement de l’État, comme dans le cas des agences de réglementation indépendantes. La fondation publique n’exerce pas nécessairement une activité réservée à l’Etat. Elle peut alors consacrer ses actions aux questions sociales, culturelles et scientifiques. Le consortium public permet de formaliser une coopération pour mener les activités d’intérêt commun aux différents organismes fédéraux. En général, le cadre juridique de ces entités est le même que celui réservé à l’administration traditionnelle. En effet, la Constitution fédérale assimile les diverses formes d’organisations administratives (art. 37, cap) et les soumet à un même régime juridique de base.
L’innovation la plus frappante relative à l’exercice de fonctions administratives par des personnes privées se manifeste par la concession administrative. Elle a été envisagée dans la loi des PPP (loi fédérale n. 11079/2004) et semble avoir été influencée par la figure du « Marché d’Entreprise de Travaux Publics » français. Selon la loi brésilienne, le contrat de concession administrative attribue à la personne privée une obligation d’effectuer un travail déterminé, nécessaire (même indirectement) pour la prestation de services de l’Administration Publique. La personne privée sera remunérée exclusivement par l´Etat, mais seulement après que les travaux ont été mis à disposition des usagers. Le contrat peut également prévoir la performance des activités au profit immédiat du grand public, avec un avantage indirect à l’Administration Publique. Dans ces cas, la personne privée n’agit pas pour son propre compte à l’égard des utilisateurs et ses actions seront attribuées à l’Administration Publique.
3.4 Quel est le régime de responsabilité applicable au tiers qui exécute une tâche publique?
Il n’existe aucune distinction de traitement entre l’Etat et le tiers dans les cas où il y a une délégation formelle des fonctions administratives à une personne privée. La Constitution fédérale prévoit que la responsabilité de l’Administration Publique est objective (art. 37, § 6). Les mêmes règles sont donc applicables en cas de délégation à une personne privée. En revanche, il y a toujours une controverse doctrinale et jurisprudentielle concernant la responsabilité de l’Etat pour les actes d’omission – même en cas de contentieux avec les tiers particuliers.
Toutefois, il n’existe pas de réponse claire pour les hypothèses du troisième secteur. La tendance est de retenir que, même lorsque les personnes privées prennent en charge une mission de service public, leur activité continuera d’être considérée comme étant généralement privée et sera ainsi subordonnée au système commun de la responsabilité civile, même si elle bénéficie de fonds ou d’autres avantages de la part de l’Etat.
http://www.henricapitant.org/storage/app/media/pdfs/evenements/tiers_droits_public_2015/bresil6.pdf